O Sentido da Pena na Modernidade: Entre a Função Reeducadora e o Legado da Repressão
por Vitoria Jeovana
24/03/2025
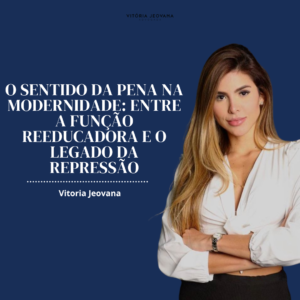
Resumo:
A história das punições vai muito além das leis. Ela mostra o caminho que a sociedade percorre, refletindo questões sociais, políticas e filosóficas. Neste artigo, vamos fazer uma análise crítica sobre o papel da pena nos dias de hoje, discutindo a tensão entre os ideais humanitários que tentam legitimar o sistema penal e as práticas punitivas que ainda em muitos casos parecem se apoiar em estruturas mais antigas e excludentes. Vamos entender a pena como um jeito de controlar a sociedade e, a partir daí, conversar sobre como isso acontece no Brasil e até onde chega a promessa de ressocialização.
1. Introdução
A pena é, em primeiro lugar, uma aparência social. Independentemente de como ela é apresentada nas leis, no fundo, revela como uma sociedade decide lidar com os desvios. Seja por meio da segregação, da dor ou da promessa de reintegração, punir é um exercício de poder, cheio de disputas e contradições.
Aqui, a ideia é analisar como a pena é vista na modernidade, observando seus interesses e seus efeitos reais. Focando no Brasil, vamos discutir como surgiu o sistema carcerário, até onde vai a função de reeducação e como ainda existem práticas penais seletivas e desumanas.
2. A função da pena: entre teoria e prática
No mundo das ideias, a pena sempre teve um papel central nas discussões sobre Direito Penal. Com a Modernidade, pensadores como os contratualistas e iluministas trouxeram a ideia de que o Estado é quem tem o poder legítimo de usar a força, aplicando avaliações de forma legal, proporcional e humana (BECCARIA, 2000). Isso foi um rompimento com os excessos do absolutismo e abriu caminho para o Estado de Direito.
As teorias absolutas, que viam a pena como uma retribuição moral, foram superadas por teorias relativas que defendem a proteção pela sua utilidade: prevenção geral, prevenção especial e ressocialização. Mas, mesmo esse discurso de reeducação, que parece dominar o cenário jurídico, enfrentado a dura realidade do sistema penal.
3. O cárcere como instrumento de controle
A prisão moderna, segundo Foucault (1987), não surgiu como uma alternativa mais humana ao suplício, mas sim como uma maneira mais eficiente de controlar a sociedade. Ao disciplinar os corpos e as subjetividades, o cárcere troca a violência visível por métodos sutis de normalização. Portanto, o que vemos não é uma superação da crueldade, mas uma nova forma de organizá-la.
No Brasil, a criação do sistema penitenciário foi fortemente influenciada por modelos de outros países, como os EUA e o Reino Unido. Mas essa adaptação nunca foi completa e ficou repleta de desigualdades sociais, raciais e econômicas. A promessa de regeneração através do trabalho e do isolamento nunca se concretizou de verdade. Em vez disso, a prisão virou um lugar que perpetua a exclusão.
4. A pena no Brasil: entre avanços legais e inércia estrutural
A Constituição de 1988, ao afirmar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, insere uma cláusula de humanidade que deveria nortear toda a execução penal. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), por sua vez, consagra o ideal da reintegração social como especificamente da sanção privativa de liberdade. Entretanto, conforme assevera Zaffaroni (2011), há uma distância intransponível entre o direito proclamado e o direito vivido.
A seletividade do sistema penal, a superlotação carcerária, a ausência de políticas públicas consistentes e o racismo estrutural deslegitimam a pena como instrumento reeducador. O cárcere brasileiro é, cada vez mais, espaço de sofrimento inútil, onde uma disciplina não é derivada de transformação, mas de dominação.
5. Considerações finais
A função da pena, no contexto contemporâneo, não pode ser comprovada apenas sob o prisma normativo. É preciso compreender sua instrumentalização política e social. No Brasil, a distância entre o discurso de ressocialização e a realidade das prisões escandaliza a falência de um modelo que insiste em prometer a inclusão a partir da exclusão.
A tarefa do penalista, especialmente no ambiente acadêmico, não é apenas discutir os fundamentos da pena, mas denunciar seus desvios e contradições. Sem esse olhar crítico, corremos o risco de naturalizar a violência institucional travestida de legalidade.
Referências
BECCARIA, César. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martin Claret, 2000.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987.
ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Pena, culpabilidade e prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.